*Artigo originalmente publicado aqui.
Demorou quase uma década desde a primeira autorização excepcional para importação de produtos à base de cannabis até que o Brasil desse um passo estrutural: reconhecer que não é possível sustentar um mercado medicinal baseado apenas em exceções.
Hoje, já são mais de 800 mil pacientes em tratamento, milhares de prescrições ativas e uma cadeia inteira operando de forma indireta, dependente de importações, liminares e interpretações regulatórias enviesadas e quase sempre conservadoras.
A decisão da Anvisa de finalmente regulamentar o cultivo e a produção industrial de cannabis medicinal não surge como inovação, mas como correção de rota. E agora, vamos nos acostumar com mais uma pecinha no labirinto regulatório: RDCs de 1.012 a 1.015 de 2026. Você já conhecia? Foi publicada ontem, saiba mais aqui.

Durante anos, o país operou sob um modelo paradoxal. A prescrição médica foi sendo gradualmente aceita, a importação individual foi regulamentada, associações de pacientes ganharam espaço por via judicial e a RDC 327 criou um regime provisório para produtos à base de cannabis.
Ainda assim, o elo mais básico da cadeia — a planta — permanecia fora do território nacional. O resultado foi um mercado caro, dependente do câmbio, com baixa previsibilidade logística e pouca capacidade de desenvolvimento tecnológico local.
A nova regulamentação rompe esse modelo ao permitir, sob autorização sanitária rigorosa, o cultivo de cannabis com teor de THC limitado a 0,3%, alinhando o Brasil aos principais referenciais internacionais. Esse ponto é central.
Ao adotar um critério técnico amplamente reconhecido, a Anvisa desloca o debate da esfera penal e moral para o campo sanitário e industrial. Não se trata de flexibilização recreativa, mas de enquadramento farmacêutico: controle de sementes, rastreabilidade de lotes, validação analítica, inspeções e destinação clara da produção.
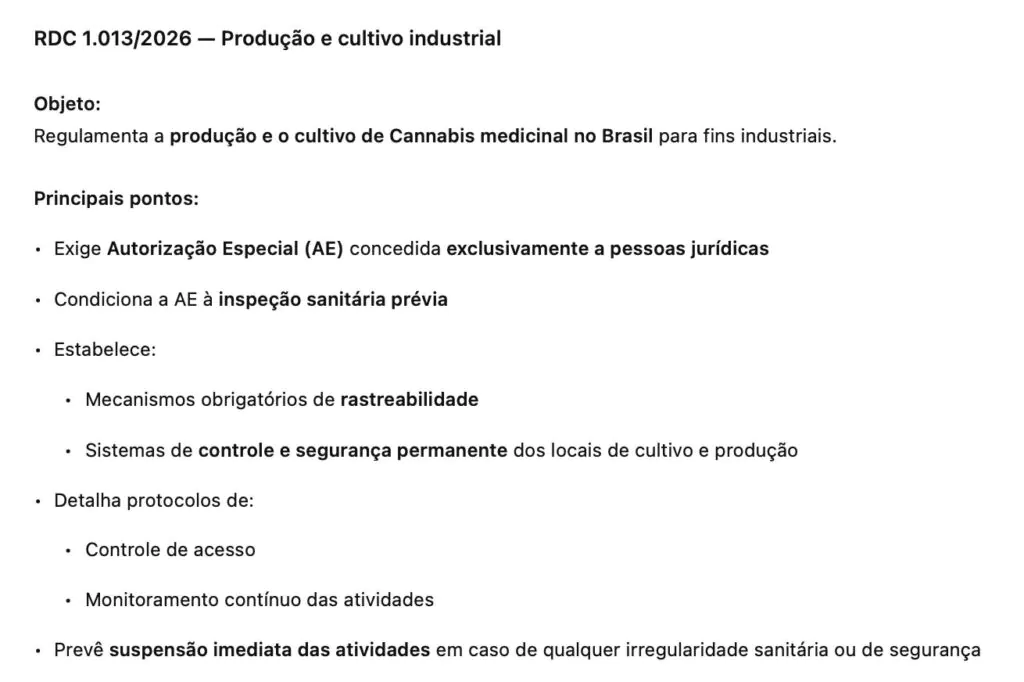
Na prática, isso viabiliza algo que até então era impossível: a verticalização da cadeia produtiva da cannabis medicinal no Brasil. “Da semente ao paciente” deixa de ser um slogan e passa a ser um modelo operacional possível.
Empresas, universidades e associações poderão, sob regras específicas, cultivar, processar e transformar cannabis em insumos farmacêuticos, reduzindo a dependência de extratos importados e abrindo espaço para padronização, inovação e redução de custos.
Esse movimento dialoga diretamente com a atualização do marco regulatório que substitui a RDC 327, a RDC 1.015/2026. A norma original cumpriu um papel fundamental em um contexto de insegurança jurídica, mas nasceu limitada e conscientemente provisória.
O que se observa agora é uma tentativa de consolidar o uso medicinal da cannabis dentro da lógica regulatória tradicional da Anvisa: definição mais clara de vias de administração, requisitos técnicos mais robustos, melhor distinção entre produto de cannabis e medicamento, e um caminho mais previsível para evolução regulatória baseada em evidência clínica.
Agora temos também regras para Pesquisa, a RDC 1.012/2026 e as regras para associações, a RDC 1.014/2026. Essas não são atualizações, mas sim regulamentações inteiramente novas. E pela primeira vez, arrojadas.
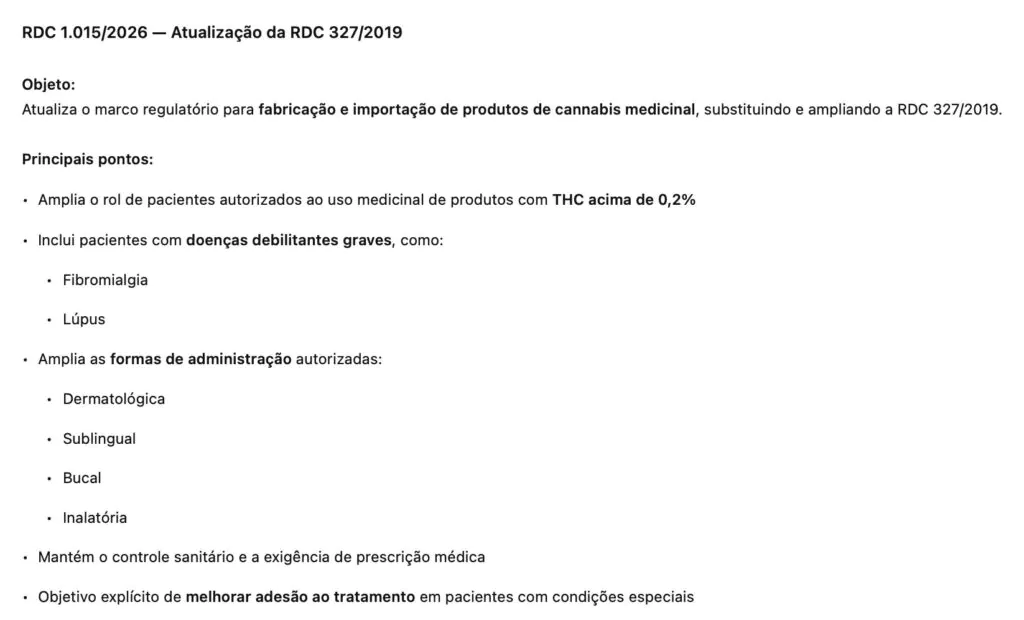
Outro ponto relevante, frequentemente mal compreendido, é a classificação do canabidiol. O CBD permanece listado na categoria C1 da Portaria 344, o que significa controle especial, prescrição médica e rastreabilidade. Isso não é um obstáculo, mas uma condição necessária para que o uso terapêutico seja tratado com seriedade.
Ao contrário do discurso que tenta empurrar o CBD para a lógica de suplemento ou bem-estar genérico, o marco atual reforça que estamos lidando com uma substância farmacologicamente ativa, que exige responsabilidade clínica e regulatória.
Do ponto de vista industrial, o impacto é significativo. A possibilidade de produção nacional de insumos derivados de cannabis cria condições para desenvolvimento de IFAs, fortalecimento da pesquisa clínica local, formação de mão de obra especializada e integração com outros setores. Mais do que um novo mercado, trata-se de incorporar a cannabis à política industrial e sanitária do país.
Nada disso elimina desafios. O modelo ainda é altamente regulado, os custos de conformidade serão elevados e o risco de concentração de mercado existe. O sucesso dessa virada dependerá da capacidade do Estado de regular sem asfixiar, e do setor privado de operar com rigor técnico, transparência e responsabilidade. O tempo das exceções acabou; começa agora o tempo da governança.
Depois de anos tratando a cannabis como um problema a ser contornado, o Brasil finalmente a trata como um tema a ser gerido. Para um país historicamente avesso a assumir debates complexos sem reduzi-los à moral ou à ideologia, esse movimento não é trivial. Não é uma revolução, mas é um sinal claro de amadurecimento institucional — e, para quem acompanha esse tema há anos, isso já representa uma mudança profunda.










